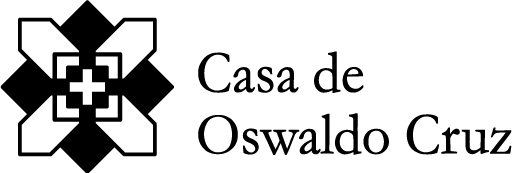Por Glauber Gonçalves
 |
|
Jeremy Greene: Algum grau de habilidade em ciência social é vital para o exercício da medicina. Foto: Roberto Jesus Oscar |
Os historiadores não devem fugir ou se esquivar da complexidade, mas encontrar uma forma de narrá-la para prover novas perspectivas para os formuladores de políticas. O comentário é de Jeremy Greene, professor do Institute of the History of Medicine da Johns Hopkins University, em Baltimore, Estados Unidos. Convidado da última edição do Encontro às Quintas, na qual revisitou a revolução terapêutica, o pesquisador conversou com o portal COC.
“A História pode ajudar nossos colegas em outros campos a escapar dos pontos cegos aos perceber que aquilo que parece imóvel pode ser móvel, que o que parece ser permanente não necessariamente o é. Há caminhos que não foram trilhados no passado e que poderiam ser explorados”, afirmou Greene, que é médico e doutor em História da Ciência pela Universidade Harvard, após participar do evento promovido pelo Programa de Pós-Graduação em História das Ciências e da Saúde da COC.
Ele também abordou o papel das empresas farmacêuticas na construção da narrativa da revolução terapêutica e explicou como a indústria utilizou a publicidade e outras estratégias de comunicação para associar os seus produtos a um movimento progressivo. O pesquisador defendeu que habilidades em ciências sociais são vitais para o exercício da medicina. Leia os principais trechos da entrevista como Jeremy Greene.
A narrativa da revolução terapêutica tem sido criticada ao logo do tempo. Quais são as principais críticas?
Há críticas ao impacto da revolução terapêutica dentro e fora da medicina. Um dos primeiros usos do termo revolução terapêutica pode ser encontrado no Journal of the American Medical Association. Carl Walter utilizou-o em 1959, não como um termo positivo, mas negativo. [Ele diz que] há uma revolução terapêutica, guiada pelos antibióticos, que está tornando os médicos indolentes em relação ao gerenciamento das infecções nos hospitais, pois agora todos acreditam que as infecções podem ser tratadas e não são um problema. [De acordo com ele], o resultado é que infecções hospitalares e resistência a antibióticos estão em alta e em breve vamos enfrentar um problema mais grave”. Para Walter, há uma ironia. Ele não está discutindo os desenvolvimentos terapêuticos de meados do século (20): os antibióticos produziram mudanças substanciais na tratabilidade, epidemiologia e carga das doenças. Isso é evidente para ele, mas ele argumenta que a revolução terapêutica também produz um conjunto de mudanças sociais que são tão perigosas quanto os antibióticos podem ser.
De certo modo, isso mostra que a profissão médica não discutiu a revolução terapêutica e assume que todo mundo sabe que ela existe e o que é. Críticos da revolução terapêutica não negam que houve tal revolução; eles apenas falam dos seus aspectos adversos ou da maneira como a [narrativa da] revolução terapêutica é incompleta e foi habilmente conduzida. Isso ilustra o quão difundidos esses tipos de narrativas modernistas são. Para que acreditemos coletivamente na biomedicina, frequentemente demandamos uma narrativa histórica que diferencie o presente de um estado pré-moderno que veio antes – que amiúde se dá na forma da narrativa de uma revolução. Críticos das narrativas da revolução terapêutica que se tornaram visíveis fora da medicina incluem o demógrafo Thomas McKeown. Ele usou seu trabalho como demógrafo para questionar se as alegações de que a relevância da terapêutica biomédica em uma substancial mudança na carga das doenças foi realmente sustentada por evidências. E, nesse ponto, nós temos os argumentos de McKeown sobre o papel dos medicamentos. De fato, o subtítulo do livro [The Role of Medicine, de Thomas McKeown] – que não está escrito na capa – é que o papel dos medicamentos é superestimado e, portanto, a revolução terapêutica é também superestimada.
Me admira como ambos os lados [entusiastas e críticos] dão por certo a existência da revolução terapêutica. McKeown é quem chega mais perto de sugerir que não se trata de algo real. Entretanto, é uma narrativa tão disseminada, tão trivial, que continua a ser reinventada. Pode-se encontrar muitas coisas escritas nos últimos dez anos sobre a revolução terapêutica que ainda está por vir: a revolução terapêutica da medicina personalizada, da terapia genética. Isso é o que muitos observadores da medicina chamam de narrativas promissórias. Grande parte das ciências hoje, especialmente a ciência biomédica, atua projetando um futuro de benefícios revolucionários que ainda estão por vir, o que ajuda a justificar por que certas coisas são financiadas e outras não o são na atualidade.
 |
|
Greene afirmou que farmacêuticas desempenharam papel importante na disseminação da narrativa da revolução terapêutica. Foto: Roberto Jesus Oscar |
Qual foi o papel das companhias farmacêuticas na construção dessa narrativa?
Eu diria que a existência das farmacêuticas é chave. As histórias que a indústria contou a seu respeito circularam amplamente e muito efetivamente entre médios e o público leigo, especialmente nos anos 1950 e 1960. Uma das dificuldades de se construir esse argumento é que não há um arquivo da associação de fabricantes de medicamentos no qual possamos encontrar a ata da reunião em que alguém disse: “Hoje nós vamos planejar como vender o conceito da revolução terapêutica para a população”.
Esse tipo de narrativa é empregado em anúncios para médicos. Um exemplo é o tipo de anúncio que reforça narrativas libertadoras de que os medicamentos antipsicóticos livram os pacientes das doenças e da internação em instituições, de que novas drogas para doenças crônicas livram as pessoas de tratamentos dolorosos que envolvem injeções, permitindo-lhes ter uma vida mais normal. Quero sugerir que a promoção farmacêutica usou certas narrativas e ajudou a sustentá-las com o objetivo de associar seus produtos a mudanças sociais significativas, de modo que a indústria e o próprio produto fossem vistos como parte de um movimento progressivo. Os anúncios usam estruturas retóricas, fiam-se em narrativas que estão disponíveis, o que leva ao debate mais amplo sobre se a publicidade reduz a realidade ou se a reflete. Uma explicação responsável tem de olhar para ambos os braços dessa relação. Os anúncios farmacêuticos não podem simplesmente inventar narrativas que não tenham eco na população. No entanto, ao destacar certas narrativas, eles ajudam a instigar determinadas conversas.
Ao deslocar-nos dos anúncios para as formas poderosas e disseminadas com as quais a indústria farmacêutica ajuda a estimular a produção e a circulação de informações em revistas populares, há coisas não tão visíveis quanto os anúncios, que, no entanto, também são atividades promocionais pagas. Redatores de ciência, incluindo alguns muito populares atualmente, foram contratados pela divisão de informações farmacêuticas. Eles reforçavam mensagens, ofereciam uma plataforma para as companhias farmacêuticas levarem adiante mensagens sobre medicamentos específicos, assim como mensagens mais amplas sobre a gloriosa revolução que os novos farmacêuticos estavam produzindo, especialmente nos anos 1950 e 1960. Isso está em um artigo que eu escrevi com David Herzberg, chamado Hidden in Plain Sight – Marketing Prescription Drugs to Consumers in the Twentieth Century, no qual estudamos o quão disseminadas foram essas formas de promoção farmacêuticas diretas nos anos 1950 e 1960.
Certamente, a indústria farmacêutica não é a única parte interessada em levar adiante uma narrativa revolucionária da terapêutica, uma vez que esse tipo de argumento tem eco em porta-vozes do FDA [Food and Drug Administration] e da American Medical Association. Mesmo os críticos das atividades de marketing farmacêutico veem-se incapazes de escapar da ideia de que houve uma revolução terapêutica. Há algo sobredeterminado em relação a isso. Não há apenas uma parte – a indústria farmacêutica. O conceito da revolução terapêutica sugere ligações temáticas e culturais que vinculam profundamente a indústria de medicamentos à medicina acadêmica nesse período.
Durante sua apresentação, você defendeu a combinação de uma abordagem biomédica e social no endereçamento de questões de saúde. É possível conciliar essas duas vertentes?
É necessário. Muitos eventos ao longo das das últimas décadas mostraram os perigos de falar-se puramente em uma história social da medicina. Para muitos historiadores da medicina, a epidemia de Aids mostra que não se pode simplesmente falar do social sem também dar-se atenção ao material. As consequências materiais são frequentemente fatais, mórbidas ou relacionadas à invalidez ou ao sofrimento. Ao mesmo tempo, não se deve levar em conta apenas o biológico. Toda a minha existência como membro do departamento de medicina foi dedicada a ajudar a formar médicos que entendam que a prática dos aspectos biomédicos não será suficiente para torná-los bons doutores. Pode-se saber diagnosticar uma condição e designar a terapia indicada nos manuais, entretanto, o paciente pode não ter a possibilidade de comprar aquele produto farmacêutico prescrito. Se eles não puderem continuar tomando o medicamento prescrito, [o tratamento] não terá efeito.
Continuamente, argumento nos departamentos de medicina das universidades que algum grau de habilidade em ciência social é vital para o exercício da medicina. Um dos problemas é que uma primeira abordagem sobre o papel da ciência social foi vista como tentativa de afastar o biológico até que o social ganhasse importância. Tendemos a focar o problema dos determinismos biológicos e, no entanto, há determinismos sociais que podem ser igualmente perigosos. Nas análises de McKeown e [Walsh] McDermott, nota-se um duelo pelo que é mais importante: os determinantes sociais ou os biomédicos. Uma análise responsável deve não necessariamente ver essas coisas como antagônicas.
 |
|
“Desfamiliarizar o presente nos termos como o analisamos é crucial para perceber questões que não estão sendo feitas”. Foto: Roberto Jesus Oscar |
Como os historiadores podem contribuir com esse debate?
Os historiadores tem muito a oferecer a este debate e ao campo das políticas de saúde mais amplamente. Quando eu me inscrevi pela primeira vez para bolsas para pesquisa em políticas de saúde, um colega perguntou-me se eu não poderia me identificar como sociólogo, porque soaria mais relevante. Por que uma fundação de políticas de saúde financiaria um historiador? Meu ponto de vista: quase todos os argumentos utilizados nas políticas tem fundamento histórico, muitas vezes superficialmente analisado. A análise histórica oferece a possibilidade de se compreender, por um lado, a realidade e as consequências das ações sociais. Por outro lado, a necessidade de não fugir ou esquivar-se da complexidade quando analisamos um caso, mas encontrar um modo de narrá-la e obter disso um conjunto de ferramentas para prover novas perspectivas sobre determinada questão. Uma habilidade para “desfamiliarizar” o presente nos termos como o analisamos é crucial para perceber questões que não estão sendo perguntadas no campo das políticas atualmente.
A História tem a responsabilidade de se envolver com o mundo das políticas. Os historiadores precisam ir além dos dois primeiros passos mais fáceis. Temos a tendência de apontar o que achamos que seja novo ou que não seja novo. Os historiadores desempenham um papel-chave nisso, porém não é suficiente. Por outro lado, tendemos a apontar o que parece simples e o que parece complicado. Eu encorajaria os historiadores a pensar em como ir além desses dois primeiros passos e comprometer-se com uma linguagem que realmente possa ser útil para públicos externos à História. Não me refiro apenas a formuladores de políticas, mas também a médicos, a pessoas ativamente envolvidas com a ciência. [Os historiadores podem ajudá-los] a entender como o mundo – o mundo como o pensamos – baseia-se num conjunto de suposições relativamente instáveis e maleáveis, que podem curvar-se quando cutucadas. Esse terceiro ponto é algo chave que os historiadores oferecem.
A História pode ajudar nossos colegas em outros campos a escapar dos pontos cegos ao perceber que aquilo que parece imóvel pode ser móvel, que o que parece ser permanente não necessariamente o é. Há caminhos que não foram trilhados no passado e que poderiam ser explorados. As oportunidades estão aí. Nossas análises serão bem-vindas por periódicos sobre políticas, porque com frequência somos capazes de fazer perguntas para as quais ninguém mais está apontando. O público popular mais amplo vê a história da medicina como um campo fascinante. Se conseguirmos levar as nossas histórias para o público em geral, seremos capazes de problematizar questões prementes relativas a bioética ou a políticas na atualidade. Esses não são desafios fáceis para um campo do conhecimento, mas eles estão aí para que nos comprometamos. Encorajo os historiadores a encontrar caminhos únicos para levar essas investigações pessoais – que são tão significativas para nós quando fazemos descobertas – ao mundo em geral.