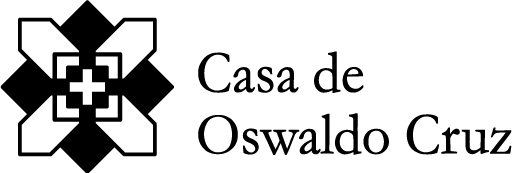Por Glauber Gonçalves
 |
| Denise Assis. Foto: Arquivo pessoal. |
Remexer em velhos baús e encarar “entulhos” trancafiados em arquivos, cofres e nas mentes de pessoas que ocuparam cargos oficiais na segunda metade do século 20 é essencial para que o Brasil consolide sua democracia. A análise é da jornalista Denise Assis, autora de dois livros sobre a ditadura civil-militar brasileira, Propaganda e cinema a serviço do golpe (1962-1964) e a ficção Imaculada. Ela participa nesta quinta-feira, 18 de setembro, do seminário Arquivos, Democracia e Ditadura, promovido pela Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz).
Ao dirigir o olhar para esse período, ela argumenta que é necessário que se abram os arquivos sob a guarda de instituições militares, cujo acesso ainda é restrito. “É fundamental que as Forças Armadas entreguem a documentação ampla que têm. Muito do que buscamos se encontra nesses arquivos. O Exército diluiu muitos desses documentos [do período da ditadura] na documentação administrativa, e, desta forma, consegue escamotear o tema”, declarou em entrevista ao portal da COC.
A jornalista, que hoje é pesquisadora da Comissão Estadual da Verdade do Rio, é a favor da revisão da Lei da Anistia, mas diz que, para isso, a sociedade precisa estar convencida de que há crimes a ser punidos. Ela defendeu ainda que as Forças Armadas venham a público reconhecer as atrocidades cometidas durante a ditadura, posição diferente da que a instituição teve ao entregar à Comissão Nacional da Verdade um relatório que não reconhece a tortura e as mortes ocorridas em suas instalações.
“Para a sociedade, hoje está muito claro que essa geração de comando nas Forças Armadas é jovem e não teve nada a ver com aquele passado. Seria digno, simples e mais coerente que eles dissessem publicamente que discordam das atitudes daquele momento, daqueles comandos que se confundiram com criminosos, que, ao invés de defender a ordem, implantaram a morte e a desordem”, declarou Denise. Confira os principais trechos da entrevista.
Para escrever o livro Propaganda e cinema a serviço do golpe (1962-1964), a senhora recorreu muito aos Arquivo Nacional. Qual é a importância dos acervos sobre a ditadura para a realização de pesquisa sobre esse período?
É fundamental que as Forças Armadas entreguem a documentação ampla que têm. Muito do que buscamos se encontra nesses arquivos. O Exército diluiu muitos desses documentos [do período da ditadura] na documentação administrativa, e, desta forma, consegue escamotear o tema com o argumento de que aquelas fichas pertencem a pessoas, que têm direito à privacidade. Porém, no decreto 12.527 de 12.11.2011, os prazos de classificação praticamente foram abolidos, assim como essa questão da vida privada. Primeiramente, os militares são considerados funcionários públicos, e, por isso, pode-se ter acesso à vida deles, porque informações referentes a funcionários públicos têm ampla divulgação. Em segundo lugar, não existe hoje uma barreira para [a divulgação de] qualquer tipo de informação de interesse público ou que seja relativa a graves violações de direitos humanos, como os fatos ocorridos na ditadura. Quando se busca a ficha de um Avólio [o militar Armando Avólio Filho], não se está buscando a vida privada dele, mas os crimes que ele cometeu.
Como foi a utilização dos arquivos para escrever o livro Imaculada?
O livro Imaculada é uma ficção, mas foi inspirado no processo da madre Maurina Borges da Silveira, uma freira que foi presa, torturada e trocada pelo cônsul japonês na época da ditadura. Tudo isso está contido no processo dela. Ela escreveu uma carta de próprio punho para o ministro da Justiça Alfredo Buzaid, do período Médici, denunciando tudo que ela passou na prisão, inclusive descrevendo sevícias sexuais. Não fosse eu ter tido acesso a esse processo, não teria a história dela completa, com esse testemunho, que é algo que não se pode desmentir, porque está documentado. Na Argentina e no Chile, por exemplo, toda a história recente foi refeita a partir de testemunhos orais. Eles têm muito pouco arquivo documental.
Foram destruídos?
Não. Lá os militares não tinham essa prática de documentar e preservar. Ao passo que aqui, nossos militares são muito hierarquizados e disciplinados no que tange à vida deles dentro das instituições. Ainda que os desmandos não sejam descritos, as datas de prisão e de instituições implementadas naquele período – por exemplo, a fundação do SNI e do DOI-Codi -, estão documentadas. Isso facilitou, hoje, a busca de muitos elementos para nossas pesquisas. Nós buscamos os arquivos, os documentos, e os cruzamos com essas oitivas, esse relato oral e os testemunhos, o que faz com que remontemos as histórias e os abusos desse período.
A OAB vem cobrando, inclusive no Supremo Tribunal Federal (STF), a abertura de arquivos do Superior Tribunal Militar…
Houve esse pedido, e o Supremo está muito aberto a essa proposta. Acredito que, em breve, teremos isso tudo digitalizado e disponibilizado, inclusive as gravações das sessões e julgamentos. O período atual facilita, sim [a abertura desses arquivos], porque a marca dos 50 anos do golpe trouxe para a sociedade a discussão mais intensa do que foi a queda do Jango e do que se passou depois disso. Sou contrária a essa divisão que alguns historiadores fazem de que, de 64 a 68, a ditadura foi mais amena, e de que de 68 em diante a barra pesou. Discordo porque a implantação da ditadura, a usurpação do poder, é uma violência inominável e, em nome disso, se cometeu todas as outras violências. Não se pode dividir. Houve uma progressão da violência em nome da sustentação de um poder usurpado. Isso cabe a historiadores que acham mais tranquilo dividir esse período para estuda-lo, mas, enquanto cidadã brasileira que viveu esse período, vejo [os momentos que se seguiram a 1964] como uma sucessão e um agravamento da violação a partir da usurpação do poder. A violência maior é uma ditadura à qual não cabe adjetivo. Ditadura é ditadura e acarreta toda umasucessão de abusos.
Como a senhora vê as lutas de memória em torno do período da ditadura, isto é, os embates entre diferentes atores sociais que tentam designar o significado desse passado?
Houve um tempo em que se buscou a memória. Houve um tempo em que se buscou reconstituir um período. Hoje, lutamos para que isso seja [parte de] um conjunto sucessivo de ações: transição, memória, verdade e justiça. Esse é o caminhar do processo que estamos vivendo. Nós já vivemos a transição e a memória. Os grupos organizados e de familiares, como o Tortura Nunca Mais, e os coletivos buscaram a história dos militantes e daquele momento. A esse período, chamamos memória. Agora, o Brasil está na fase da busca da verdade. Justiça será um desdobramento natural disso, desde que a sociedade se envolva na busca por reparação. Fazer justiça tanto pode ser dar voz às vítimas, aos atingidos, quanto pode ser uma revisão da Lei da Anistia. Acredito que estejamos construindo esse processo.
A senhora é a favor à revisão da Lei da Anistia?
É uma questão complicada. Em 1979, tínhamos a campanha da anistia vitoriosa, o retorno dos exilados, uma mobilização enorme da sociedade. Conseguimos colocar um milhão de pessoas nas praças das capitais deste país. Naquele momento, homens, eu diria covardes e temerosos, sentaram com os militares e construíram um acordo. Hoje eles falam que não havia clima [para um acordo melhor]. Eu sou do período, acompanhei isso e sei que havia, sim. Houve um acovardamento na época, principalmente do MDB, que sentou com essas pessoas e fez um acordo à revelia da sociedade. Houve um cochilo que permitiu passar aquele item de crimes conexos. Entendeu-se como crimes conexos tanto quem militou no lado da esquerda quanto o perpetrador, ligando uma pessoa a outra da forma mais equivocada possível. Esse acordo foi danoso para nós. Não considero aquele como um acordo da sociedade, como se tenta justificar hoje. Foi um acordo de um grupo à nossa revelia e um desrespeito a quem estava na rua lutando, como nós estávamos. Aí aconteceu essa anistia que beneficiou – a expressão é terrível – os dois lados. Isso causou uma acomodação. Em seguida, veio a postura do esquecimento. ‘Vamos esquecer, vamos trancar no armário essa história para que o país possa caminhar rumo ao futuro’, as pessoas diziam e justificavam. Que futuro é esse que ficou com as suas feridas não cicatrizadas? Colocou-se um bandaid nisso e prosseguimos sem reparação, sem um grito de gol. Qual é o momento em que podemos comemorar a nossa democracia? Não temos uma data do gol, do grito de liberdade. Tivemos de engolir a transição lenta e construída com acordos espúrios tal como a Lei da Anistia.
Há espaço para revê-la hoje?
A revisão hoje seria possível desde que a sociedade se convença de que existem crimes a ser punidos. Existem pessoas que alegam hoje não poder ir para a cadeia porque estão velhinhos. Mas a Argentina, por exemplo, acaba de condenar à prisão perpétua um general de 82 anos. O [general Jorge Rafael] Videla morreu na prisão para pagar pelos seus crimes de usurpação de poder, de sumiço de bebês e adoções ilegais. Os canalhas também envelhecem, e eles que arquem com o preço dos seus crimes. Adiar só vai fazer com que fiquem mais velhos e chorosos. Quando se fala em dois lados, temos que nos lembrar que os militantes, os resistentes, pagaram com a vida, pagaram com anos de prisão. A Jesse Jane ficou presa por 8 anos, pagou pelo sequestro do avião. O Nelson Rodrigues Filho amargou uma prisão de 11 anos. Quantas vezes o capitão Lamarca vai ter de morrer, quantas mortes o Marighela precisa ter para que digamos que fomos punidos. Só se morre uma vez. Do outro lado, embora eles lancem mão daqueles crimes colocados na nossa conta, como a morte do soldadinho Kosel, foram poucos na ultradireita que pagaram com a vida. Além de tudo, a própria ONU concede que um povo reprimido reaja. E não se reage a uma violência do tipo tortura, desaparecimento e crimes de grave violação com flores. Cabe uma revisão [da Lei da Anistia]. Enquanto isso não acontece, cabe às Comissões da Verdade o trabalho de demonstrar para a sociedade o que foi aquele período, o que foram essas graves violações. Estamos aqui para recontar. Ao recontar, aqueles que foram atingidos têm o direito de apelar para a Justiça e pedir a condenação e a reparação dos seus algozes. É nesse momento que estamos, colaborando para trazer à tona as arbitrariedades e aquela história de violência.
Em Propaganda e Cinema a Serviço do Golpe, a senhora fala sobre o apoio financeiro dado por grupos empresariais ao golpe. Essas empresas deveriam ser punidas?
As empresas devem abrir seus arquivos de denúncia. Todos montaram suas listas negras e puniram funcionários com afastamento e demissões injustificadas. Caberia indenizações a essas pessoas. O golpe não foi dado em nome de uma ameaça comunista, como se quer disseminar ainda hoje. Foi dado em nome de um modelo de país que priorizava o capital. Essa defesa do capital é que levou a que esse grupo de empresas apoiasse o golpe, porque elas consideraram, na época, que a ameaça comunista lhes tiraria o poder. E não houve isso. Quando veio o golpe, se Jango tivesse esse exército comunista articulado, teria uma defesa, e não houve um grupo sequer organizado para reagir à queda dele. Isso me parece tão cristalino e óbvio que não dá para continuar repetindo o discurso da ameaça comunista, da ordem, porque até o caos que alega-se existir na época foi construído e organizado.
As Forças Armadas ainda não reconheceram publicamente os erros do período. O que isso significa?
Essa é uma pergunta difícil, na medida em que nem sequer o ministro da Defesa se posiciona publicamente em nome da verdade e de trazer uma nova visão de Exército, de Marinha e de Aeronáutica. Para a sociedade, hoje está muito claro que essa geração de comando nas Forças Armadas é jovem e não teve nada a ver com aquele passado. Seria digno, simples e mais coerente que eles dissessem publicamente que discordam das atitudes daquele momento, daqueles comandos que se confundiram com criminosos, que, ao invés de defender a ordem, implantaram a morte e a desordem. Eles contribuíram para o assassinato de pessoas que cabia a eles defender. Essa releitura do papel das Forças Armadas deveria vir de seu comando. Ao publicizar aquele relatório em que as Forças Armadas dizem que em suas dependências não aconteceram mortes, agressões ou graves violações aos direitos humanos, o próprio ministro se torna conivente do apagar desse passado, que vai ficando trancado no armário. Cada vez que se precisar abrir esse armário, os esqueletos vão cair na cabeça da sociedade, porque não se consegue desmentir as evidências do que aconteceu; as pessoas estão aí, seus filhos e netos estão aí, as documentações estão aí para denunciar tudo o que foi o terror daquele período.
Como foi escrever uma ficção sobre a ditadura?
Foi um processo que levou 30 anos. Tive notícia da existência da madre e coloquei essa história no meu horizonte. Sempre que podia entrar em contato com alguém que tivesse cruzado o caminho dela, ia aprofundando as pesquisas sobre essa história. Quando consegui finalmente em 2003 colocar as mãos no processo dela, vi o quanto era detalhado e o quanto ela foi cerceada no seu direito de defesa nos seus pedidos de retorno ao Brasil – ela queria voltar para se defender, sob pena de continuar sendo torturada, queria ter o direito de permanecer aqui. Na época, ela foi inocentada na corregedoria militar e na Justiça, mas o ministro Armando Falcão impediu junto com João Figueiredo, que era o chefe do SNI, o seu retorno para que ela não se tornasse um símbolo da campanha da anistia. Foi uma decisão pessoal, ao arrepio da lei, à revelia de todos os princípios, já nem digo democráticos, porque não vivíamos em uma democracia, mas de humanidade mesmo. Já era uma história que me impressionava, mas o fato de ver aquilo documentado, aquele bilhete escrito a mão, dizendo que ela não voltaria por isso e por aquilo… O tanto que ela foi injustiçada e cerceada na sua liberdade e nos seus direitos me fez perseguir essa história. Eu quis contar a história dela com todos os elementos que circundavam o seu nome, mas deixando claro que era uma ficção. Achei que, aguçando essa história, que era muito grave, eu poderia exemplificar para a sociedade o que foi aquele período de uma forma mais contundente. Como jornalista, tenho princípios éticos que me impedem de escrever uma história não verdadeira, porém, como ficcionista, eu podia alçar os voos que quisesse. É evidente que eu me inspirei na vida e na saga da madre Maurina, para criar um personagem que foi a Imaculada, que teve uma trajetória na ficção semelhante ao que ela viveu na prisão, mas com desfecho mais radical e diferenciado.
No ano passado a juventude saiu às ruas com uma pauta de reivindicações bastante heterogênea. Que relação é possível fazer entre as manifestações de junho de 2013 e os movimentos que combatiam a ditadura?
Houve uma nostalgia da militância que esses jovens não tiveram. Como essa geração começou a despertar para os fatos que estavam vindo à tona a partir da instalação da Comissão da Verdade, bateu nela um sentimento de o que eu posso fazer semelhante ao que eles fizeram. Só esqueceram de avaliar que naquele período ou você estava de um lado ou de outro. Quando você não tem um momento radical para se confrontar, você tem de escolher causas. Essas causas foram muito mal escolhidas, a meu ver. Algumas corretamente: a defesa da saúde, do transporte, da educação. Isso sim, seria motivo para uma manifestação pacífica, é bom que se grife bem. Ir para a rua reivindicar uma melhoria nesses setores de forma pacífica é uma coisa. Outra é usar de uma nostalgia de um momento radical, histórico, e de confronto, que não está mais no cenário político, e usar das mesmas armas que se usou para esse cenário para reivindicar coisas num momento democrático. Houve aí uma confusão de sentimentos e de posicionamento político.
Qual foi a consequência disso?
A consequência foi um aproveitamento oportunista não só dos jovens como também da mídia, que misturou no mesmo caldeirão a maculação de algumas biografias que participaram daquele momento lá atrás [o combate à ditadura] para confundir a opinião pública. Houve uma coincidência infeliz do julgamento do que chamam de mensalão – com muitos senões e reticências [a esse termo] – com aquelas manifestações. Essa coincidência foi muito capitalizada e aproveitada no discurso de uma mídia interessada em caminhar com as coisas para um determinado rumo. Esse caldo de cultura resultou num grande equívoco, que levou àquela radicalização de black blocks. O posicionamento jovem em defesa dos interesses da sociedade deve existir sempre. A passagem do cinquentenário de 64 teve esses dois aspectos: suscitar nos jovens a nostalgia do que eles não viveram e, por um lado positivo, de evidenciar uma história que as pessoas já tinham esquecido de uma forma muito conveniente ou desconheciam. É muito positivo se remexer nesse baú. Você tem de tirar as coisas desnecessárias dele e passar esse país a limpo para que ele possa prosseguir democrático e livre dos entulhos que estão aí trancafiados em arquivos, em cofres e no coração dessas pessoas que não se abrem para revelar o que fizeram.
Muitos dos derrotados em 1964 com a tomada do poder pelos militares hoje estão no poder. De que forma isso influencia o que vamos esquecer e o que vamos lembrar sobre a ditadura?
Há um mau uso da imagem dessas pessoas, uma manipulação de informações em torno delas, que conforma um discurso hoje muito conveniente para se negar esse passado [referente à ditadura] e a necessidade de passá-lo a limpo. Usa-se o argumento de que quem participou [da luta contra o regime] está aí roubando. Isso vai sendo repetido e desvirtuando o real sentido daquele passado. Olhando pelo lado positivo, temos o coroamento do trabalho de pessoas que lutaram pela redemocratização e que podem hoje exercer esse poder que buscaram, que fizeram por merecer, colocando em prática algumas das ideias que defenderam [no passado]. É muito positivo que essas pessoas tragam para a prática política os sentimentos de igualdade, democracia, liberdade e justiça social que defenderam naquela sua luta. Mas há também esse mau uso que a sociedade faz – e aí volto a dizer, muito influenciado pela força da mídia – de desvirtuar algumas biografias e usá-las para desqualificar o movimento de resistência pelo fim da ditadura.