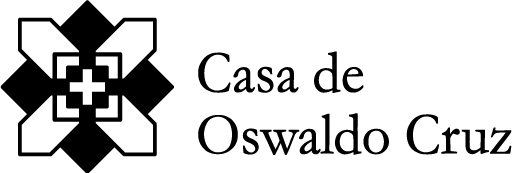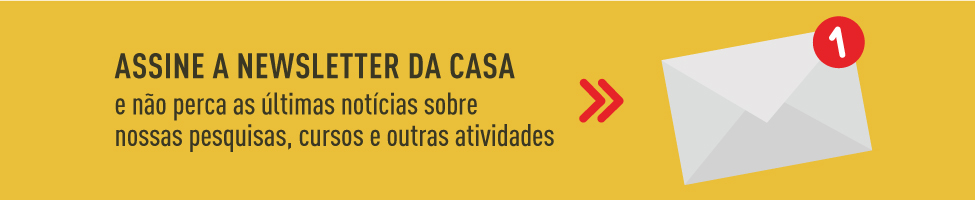Acordos tentam sanar falhas do mercado, que ignora inovação nos medicamentos para tratar doenças relacionadas à pobreza, como as leishmanioses
| Arte:Silmara Mansur |

Por Karine Rodrigues
O que pode acontecer quando o Estado permite que o mercado determine a agenda de prioridades de pesquisa e desenvolvimento em saúde? Um indicativo é a situação das leishmanioses, um conjunto de doenças infecciosas, endêmicas em 98 países ou territórios, predominante em áreas mais pobres. Quem as contrai, recebe hoje o mesmo tratamento de primeira escolha da década de 1940: uma droga produzida com antimônio, um metal pesado, de alta toxicidade.
“Usando uma expressão do (antropólogo Bruno) Latour, eu abri a ‘caixa preta’ das Parcerias público-privadas para ver os interesses e as controvérsias num conjunto de doenças que não têm ânimo de lucro”
A permanência de um produto tão ultrapassado em uma indústria reconhecida por sua capacidade de inovação tecnológica não é aleatória, revela estudo de Mady Barbeitas, pós-doutoranda da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz). Veterinária formada pela Universidade de Brasília (UnB) e pesquisadora associada ao Centre de Recherche médecine, sciences, santé, santé mentale, société (CERMES3/ Inserm/CNRS), em Paris, na França, ela foi convidada para falar sobre o assunto em evento realizado pela Casa no início de setembro.
Leia mais:
Como os estudos sobre as leishmanioses contribuíram para a globalização da Medicina Tropical
Em sua tese de doutorado em saúde pública e ciências sociais defendida na França, Mady analisou as estratégias, os atores e as linhas de financiamento do sistema mundial de desenvolvimento farmacêutico para responder à pergunta: o que realmente mudou em relação ao tratamento das leishmanioses dos anos 1980, quando foi detectada a falta de inovação para determinado grupo de doenças, até o momento?
“Usando uma expressão do (antropólogo Bruno) Latour, eu abri a ‘caixa preta’ das Parcerias público-privadas para ver os interesses e as controvérsias num conjunto de doenças que não têm ânimo de lucro”, explicou Mady, referindo-se aos contratos realizados entre ambos os setores para a realização de projetos que, anteriormente, dependiam exclusivamente do Estado.
“O setor privado promove a privatização da pesquisa básica financiada com recursos públicos”
Para realizar a investigação, ela adotou um olhar interdisciplinar e optou pela metodologia Science and Technology Studies (STS), que examina a criação, o desenvolvimento e as consequências da ciência e da tecnologia em seus contextos histórico, cultural e social, colocando em xeque a visão de uma ciência neutra e universal. “Toda decisão científica está permeada de contextos”, observou Mady, frisando a importância de analisá-los quando se procura entender por que determinadas decisões são tomadas. No caso da política farmacêutica industrial, “há toda uma configuração do sistema, que vai querer ou não que o medicamento entre no mercado e esteja acessível para os pacientes”, disse.
Mady começou analisando as definições do termo doença negligenciada, que ao surgir, em 1977, estava associado à falta de recursos para a pesquisa biomédica. Na virada para o ano 2000, a organização internacional Médico Sem Fronteiras (MSF) trouxe uma nova conotação, afirmando que a falta de tratamento ou a existência de tratamento inadequado, ultrapassado, para esse grupo de doenças se devia à configuração do sistema de inovação farmacêutico, dominado pela indústria. Baseou essa argumentação com a publicação Fatal Imbalance, de 2001, segundo a qual apenas 1,1% dos 1.393 medicamentos aprovados entre 1975 e 1999 eram novos produtos para doenças negligenciadas, malária e tuberculose.
“O setor privado promove a privatização da pesquisa básica financiada com recursos públicos nas universidades e centros de pesquisa, para que as empresas traduzam essa pesquisa em produtos que possam ser vendidos a um preço alto, sem tomar em consideração as necessidades de inovação das populações pobres nos países do Sul”, disse Mady, chamando atenção para o fato de que o Estado contribui com esse cenário ao não regular o mercado.
Na tese, a pesquisadora investigou, por exemplo, dois modelos de inovação para as leishmanioses: o do Special Programme for Research & Trainning in Tropical Disease (TDR), mantido por entidades como Organização Mundial da Saúde (OMS) e Unicef, para combater as doenças relacionadas à pobreza; e o da Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi), organização internacional sem fins lucrativos de Pesquisa e Desenvolvimento, onde ela trabalhou durante quatro anos, acompanhando de perto projetos de desenvolvimento de novos fármacos para as leishmanioses e doença de Chagas na América Latina.
 |
| Úlcera de leishmaniose cutânea. Foto: Wikipedia |
Durante a aplicação do modelo do TDR, percebeu-se que seria necessário buscar saídas junto à indústria farmacêutica para renovar as opções terapêuticas em um mercado, a priori, não lucrativo. A estratégia foi dividir os custos com o setor privado para se alcançar um preço acessível, por meio de um tipo de contrato, a parceria público-privada (PPP).
Indústria compra farmacêuticas menores e aumenta preço dos medicamentos
No acordo firmado em 1995 entre o TDR e a empresa alemã Astra Medica, proprietária da molécula da Miltefosina, primeiro medicamento oral registrado para o tratamento das leishmanioses, o custo de fabricação do fármaco variou entre 10 e 15 dólares. Porém, após uma estratégia comum na indústria farmacêutica – na qual grandes empresas compram as menores para se apoderar de suas moléculas, livrando-se da necessidade de se investir em todas as fases de desenvolvimento – o preço público subiu de forma estratosférica e chegou até 250 dólares.
Outro caso analisado foi o do Anfoleish, uma nova formulação, em creme, de um medicamento injetável para o tratamento da leishmaniose cutânea – existem também a leishmaniose visceral e a leshmaniose mucocutânea -, a ser desenvolvida por meio de uma PPP entre a DNDi e a farmacêutica colombiana Humax e o PECET, da Universidade da Antióquia, na Colombia. A organização internacional transferiu para a indústria local todo o conhecimento necessário para a realização de teste pré-clínicos e para a estruturação da planta de produção. Com isso, a Humax se tornou muito mais atrativa e foi comprada pela canadense Valeant, conhecida por adquirir outras empresas farmacêuticas para aumentar excessivamente o preço dos medicamentos. Os estudos apontaram baixa eficácia da formulação. E a iniciativa não foi mais adiante.
Acordos entre setores público e privado são meramente descritivos
Segundo Mady, a falha está no sistema de inovação, “quando ele se preocupa unicamente em desenvolver um produto, que está no acordo, sem buscar realmente uma reflexão sobre o acesso desse produto para o paciente”. Na opinião da pesquisadora, embora as PPPs tenham ampliado a colaboração entre os setores público e privado, também são fonte de muita controvérsia, por isso, precisam ser atentamente analisadas. O maior problema, segundo ela, reside no fato de que as PPPs são feitas com base em acordos meramente descritivos, algo que no direito internacional é chamado de soft law ou direito flexível: “Os acordos de pesquisa e desenvolvimento não vinculam realmente os setores público e privado, pois são textos desprovidos de caráter jurídico”, pontuou a pesquisadora.
 |
| Mady é pós-doutoranda da Casa. Foto: Arquivo pessoal |
Outra controvérsia gira em torno da disponibilidade, para a indústria privada, do conhecimento produzido em instituições públicas, por meio de pesquisas clínicas e laboratoriais. “O grande problema é que o aprendizado tecnológico é um bem intangível. Não tem como você aprisionar num contrato. Então, tem um risco de captura, pelo setor privado, do conhecimento produzido”, alertou.
A importância de instituições fortes e da regulação do mercado
Segundo a Mady, as fragilidades dos acordos mostram a importância de se investir nos laboratórios públicos e criar mecanismos para assegurar as prioridades e a agenda das populações negligenciadas: “Se não houver instituições fortes e uma formação de um mercado robusto, muito dificilmente isso vai chegar às mãos dos pacientes, por mais que tenhamos o conhecimento científico, tecnologia”.
A pesquisadora lembra que a epidemia de Covid é exemplar para falar sobre a importância de se investir na produção local e alcançar autonomia em relação à patente e à produção, pois os países sem capacidade para desenvolver vacinas ficaram muito dependentes. “Vimos isso também com o teste diagnóstico”.
Brasil concentra maior número de notificações nas Américas
A Fiocruz é protagonista nos estudos sobre as leishmanioses, com pesquisadores como Carlos Chagas e Evandro Chagas, Leônidas Deane e Maria Paumgartten Deanne, e tem dado, ao longo do tempo, importantes contribuições ao campo. Além do Laboratório de Referência Internacional para Tipagem de Leishamania, do Instituto Oswaldo Cruz (IOC/Fiocruz), o Instituto Nacional de Infectologia Evandro Chagas (INI/Fiocruz) realiza estudos sobre as leishmanioses humanas e animais; forma recursos humanos, oferece tratamento e acompanhamento de pacientes. Já o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos (Bio-Manguinhos) produz reativos para diagnóstico das leishmanioses humana e animal, inclusive o único teste rápido disponível no mercado atual para detecção da doença em cães. Também relevante é o trabalho da Fiocruz Minas, que possui diversos serviços de referência para as doenças.
Transmitidas pela picada de insetos infectados por protozoários do gênero Leishmania, as leishmanioses se dividem em tegumentar e mucosa, que se apresentam por meio de feridas na pele; e visceral ou calazar, o tipo mais grave, que afeta os órgãos, especialmente o fígado, o baço e a medula óssea e, se não tratada, pode levar à morte em 90% dos casos.
Nos últimos 20 anos, mais de 1 milhão de casos de leishmaniose cutânea e mucosa foram notificados à Organização Pan-Americana da Saúde (Opas). Dados mais recentes, de 2020, revelam que o Brasil concentrou o maior número de casos das Américas: 16.432. O país também é líder em leishmaniose visceral ou calazar, acumulando 97%(1.933) das notificações na região. Ao longo de quase duas décadas, entre 2001 e 2020, foram registrados no Brasil cerca de 68 mil casos.