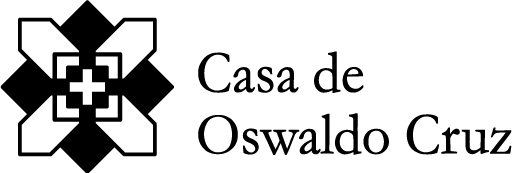Cristiana Facchinetti, Ana Teresa A. Venancio e Flavio C. Edler*
 |
Temos assistido a diferentes debates que buscam destacar os efeitos decorrentes da pandemia, sejam estes econômicos, sociais, políticos, entre tantos outros. A perspectiva que ora trazemos, como historiadores do “físico, mental e moral”, visa trazer a tona argumentos que nos permitam discutir os efeitos advindos do mal-estar decorrente da COVID-19 e analisar o horizonte de possibilidades que estes produzem no campo das subjetividades.
A perspectiva que ora trazemos, como historiadores do “físico, mental e moral”, visa trazer a tona argumentos que nos permitam discutir os efeitos advindos do mal-estar decorrente da COVID-19
Em um dos seus textos mais famosos, O mal estar na cultura[2], Freud enuncia que o sofrimento humano advém, basicamente, de três fontes: do corpo, “condenado à decadência e à dissolução, e que nem mesmo pode dispensar o sofrimento e a ansiedade como sinais de advertência; do mundo externo, que pode voltar-se contra nós com forças de destruição esmagadoras e impiedosas; e, finalmente, de nossos relacionamentos com os outros homens” (Freud, 1986, p. 85). Para lidar com as adversidades e obter prazer, contamos com a mediação da realidade, que, atravessada por valores socioculturais, exige a renúncia de satisfação direta dos nossos impulsos, oferecendo em troca satisfações substitutivas, encarnadas em inúmeros bens sociais que falham aqui e acolá em nos oferecer o “grande bem” prometido como recompensa à tal abnegação, traduzindo-se em um acúmulo de mal-estar.
Neste exato momento quando “tudo o que é sólido se desmancha no ar”[3] e as "forças de destruição esmagadoras e impiedosas” do vírus nos assombram, o mal estar torna-se ainda mais palpável, enquanto somos instados a substituir os impulsos de satisfação por promessas de segurança e a buscar a reinvenção nos modos de nos relacionarmos com os outros. Em consequência, para além da doença mesma a que estamos expostos, todos temos alguma história para contar de manifestações clínicas de sofrimento bastante perturbadoras – angústia, fobias, insônias, distúrbios alimentares e de sono, abuso de drogas, álcool e medicamentos, manifestações psicossomáticas, entre outros. Também é possível observar a presença em alguns de nós de uma atitude diametralmente oposta, de denegação e minimização do mal que nos atropela do Real, como se fosse possível dobrá-lo ao nosso desejo. Mas para além do impasse do momento, a maioria dos especialistas aposta que o efeito da pandemia sobre as subjetividades é radical e irá produzir – já vem produzindo – novos “estilo[s] de ser, forma[s] de padecer e maneira[s] de sentir”[4].
Para aprofundar o debate sobre a constituição desses novos comportamentos, as respostas emocionais e o mal estar que resulta da atual situação sanitária, entrevistamos dois especialistas do campo das ciências sociais e humanas, ambos pesquisadores do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado Rio de Janeiro. Na primeira parte, entrevistamos a antropóloga Jane Russo[5]. Nesta segunda parte aqui publicada, o psicanalista Benilton Bezerra Junior observa como a atual pandemia coloca em questão vários elementos da nossa cultura considerados até então como inabaláveis, produzindo efeitos contundentes para as subjetividades do século 21.
*Cristiana Facchinetti, Ana Teresa A. Venancio e Flavio C. Edler, pesquisadores do Departamento de Pesquisa em História das Ciências e da Saúde da COC/Fiocruz que fazem parte do grupo de pesquisa do CNPq “o físico, o mental e o moral na história dos saberes médicos e psicológicos”
O papel do COVID-19 nas subjetividades contemporâneas
Benilton Bezerra Jr.[6]
1) Antes de mais nada, nós do Grupo de Pesquisa do CNPq “O físico, o mental e o moral na história dos saberes médicos e psicológicos” agradecemos muito a você por ter aceito participar desta entrevista. Diante do tamanho e da dramaticidade da pandemia que vivemos e das incertezas que ela traz para o cotidiano, gostaríamos de contar com o seu olhar para discutirmos os efeitos desse mal-estar no campo da subjetividade.
Benilton Bezerra Jr.: Muito bom ter oportunidade de trocar ideias sobre essas questões que nos afligem tanto neste momento. Quero de início chamar atenção para uma coisa que todo mundo sabe, mas que vale a pena ressaltar aqui, que é o seguinte: a experiência subjetiva se dá num mundo vivido, em que organismo e ambiente se encontram gerando aquilo que a gente percebe como sendo a realidade, e que se sustenta em alguns alicerces. Um desses pontos de sustentação é o campo do simbólico – o conjunto móvel de referências que nomeiam, descrevem e articulam em narrativas e estruturas reconhecíveis o fluxo da nossa experiência, e que conjugam o horizonte de possibilidades imaginárias dos sujeitos em termos de percepções, valores, e repertório de ações possíveis. É o simbólico que permite que o encontro dos sujeitos com o que Lacan chama de Real seja experimentado como realidade. A pandemia, ao chegar de maneira abrupta e inesperada, atingindo profundamente todo o planeta, provocou um abalo profundo nas estruturas que dão sentido e coerência ao vivido, ao que experimentamos como a realidade social. E é exatamente isso o que faz com que haja tanta repercussão subjetiva nessa experiência que estamos vivendo. É porque os parâmetros e as referências que vinham dando coerência à realidade até então foram sacudidos e atropelados pela circulação do vírus e de seus efeitos.
Outro ponto de sustentação da experiência subjetiva decorre do fato de que os seres humanos, como todos animais, têm necessidades, impulsos vitais cuja satisfação só é alcançada por meio da interação com os outros num mundo compartilhado. No caso dos humanos, por causa de nossa prematuridade e forte dependência do outro, e pelo papel axial da linguagem na nossa constituição subjetiva, esses impulsos se tornam muito mais complexos, pois os objetos e os objetivos que podem satisfazer esses impulsos já não se restringem ao que está definido pela ordem vital. É a isso que nos referimos quando diferenciamos as pulsões dos instintos. A gente tem fome não só de comida, mas também de reconhecimento; a gente tem sede de água, mas também de cuidado, de sentido. A natureza em nós é sempre uma segunda natureza.
Então, no pano de fundo dessas mobilizações coletivas diante da COVID-19 estão esses dois polos: o polo da realidade social – que, como eu disse, depende de uma espécie de tessitura simbólica que cria o campo imaginário, do mundo compartilhado -, e o polo pulsional, que diz respeito ao modo como as pessoas respondem ou se engajam nessa realidade. Tentar compreender a experiência que estamos atravessando implica procurar entender como a dinâmica entre esses polos vem sendo atingida.
Nessa perspectiva, pode-se dizer que houve uma incrível capacidade de adaptação a uma realidade nova, que ninguém nunca tinha vivido. Nos primeiros meses da pandemia, pelo menos na maioria absoluta dos países, experimentou-se uma mudança de vida muito profunda: governos que vinham empunhando a bandeira do estado mínimo como fundamental para as políticas econômicas começaram a se desdizer e a mobilizar políticas de suporte para populações que já não tinham mais como trabalhar; a comunidade científica reagiu com uma velocidade impressionante, produzindo conhecimento e desenvolvendo vacinas em mais do que a metade do tempo que normalmente um processo desse levaria. O distanciamento físico, apesar de seu custo subjetivo, não produziu apenas isolamento, mas também novas formas de proximidade e cooperação. As pessoas passaram a fazer tudo de maneira remota, com uma adesão muito forte à reinvenção dos modos de se comunicar e agir socialmente. A crise econômica produziu, e ainda produzirá mais, dificuldades terríveis, mas trouxe também para cima da mesa uma urgência na discussão sobre desigualdades de toda natureza – que se tornaram, por conta da pandemia e, talvez pela primeira vez, disfuncionais para todos, e não apenas para os excluídos. O desmoronamento do mundo anterior, que parecia impossível de mudar estruturalmente, abriu de novo a discussão sobre seu horizonte.
A pandemia também deveria ser um chamado à consciência, no sentido de mostrar como a desigualdade estrutural que esses quatrocentos anos de capitalismo produziram é incompatível com uma boa vida para todos
Mas cinco meses depois da eclosão da pandemia no Brasil, começamos a assistir mais claramente os efeitos da fadiga psicológica em relação ao esforço de abdicação de uma vida “normal” em prol da adaptação necessária às injunções do vírus. Fica mais fácil perceber o impulso de outros elementos que, como sempre – já que somos seres de contradição e de paradoxos – se opõem ao esforço de adesão coletiva ao objetivo comum de combate ao vírus, de proteção mútua e de criação e aprofundamento de laços de solidariedade. Vê-se, então, o crescimento do oposto dessas tendências. “Farinha pouca, meu pirão primeiro”, como se diz. Um claro exemplo dessa perspectiva pode ser visto na ação de certos governos, como é o caso das tentativas de compra preventiva de parte do estoque mundial de vacinas em desenvolvimento para proteger os cidadãos americanos, como os Estados Unidos vem buscando fazer. No cotidiano social esse tipo de atitude começa também a aparecer, na medida em que os movimentos pulsionais de contato, de busca do prazer, de ruptura com limitações, etc., começam a se chocar com o esforço racional de privação de uma vida ao qual estávamos acostumados até então.
Nesse momento em que conversamos podemos observar um leque amplo de reações e de comportamentos se distribuindo na população, que incluem desde aquelas pessoas que ainda conseguem ter a disciplina necessária para manter as recomendações médicas e permanecem aderidas à quarentena, a pessoas que já torpedearam essas prescrições e buscam, por variadas razões, negar a realidade da presença da COVID-19 e seu impacto social. As motivações são diversas e incluem desde a fadiga psicológica advinda do longo período de privações até os interesses daqueles cujo objetivo é o de simplesmente fazer girar de novo a roda da economia em prol dos seus lucros ou, pelo menos, da redução de seus prejuízos, o mais rapidamente possível. Então, no quadro geral, eu acho que esses são os elementos que precisamos mobilizar para poder entender o que está acontecendo.
2) Em uma live do dia 30/5/2020, “Psicanálise em tempos de COVID-19: compartilhando reflexões”, do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro[7], você trouxe para a discussão o modo como a presença da pandemia marca a possibilidade de novas modalidades de existência subjetiva no/ para o século 21. Você poderia falar um pouco sobre essa passagem?
Benilton Bezerra Jr.: É preciso considerar o momento histórico em que o vírus atinge o planeta. Se ainda estivéssemos nos anos de 1950, essa pandemia seria vivida de uma maneira certamente diferente. Mas desde o último quartel do século passado, vivemos um processo de passagem do que foi o mundo subjetivo do século 20 para o século 21. Datas simbólicas ajudam a circunscrever um pouco o que é a experiência de um século, não é? De forma mais ou menos consensual, admite-se que a experiência do século 20 começou com o fim da Primeira Guerra Mundial (nov. 1918) e que o encerramento do bipolarismo mundial, a queda do Muro de Berlim (nov. 1989), principiou o seu fim. A queda do Muro de Berlim, de certa maneira, também terminou um ciclo de 200 anos, que se iniciou com a queda da Bastilha (jul. 1789). Foi um período imantado pela ideia de revolução social, das utopias coletivas e, ao longo desses duzentos anos, de progressiva revolução no plano das aspirações individuais.
De fato, a ideia de democracia, assim como os valores do individualismo e da singularidade foram se constituindo como marcas basais, carimbos mesmo da nossa subjetividade ao longo desse período. O 18 se constituiu como o século da igualdade, como diz o Georg Simmel[8]; o século da singularidade, o século 19[9]; e o século 20 expandiu tudo isso, constituindo uma cultura não apenas do individualismo, mas uma cultura onde o narcisismo é um traço muito forte[10]. E o que isso significa? Após duzentos anos organizando o mundo subjetivo, a metáfora paterna – a figura da lei, da autoridade, do pai como um ordenador simbólico, enfim, – começou a sofrer abalos. E esses estremecimentos implicaram uma série de coisas que muita gente já analisou detalhadamente, como a desconstrução das grandes narrativas, a contestação da própria noção de autoridade e a exacerbação do valor da autonomia individual como eixo da vida social, subjetiva, coletiva e individual. Foi uma contestação sem precedentes de todo o tipo de ordenação vertical – uma espécie de horizontalização imaginária das formas de distribuição do poder. Imaginária, sublinho, porque na verdade a contestação das formas tradicionais de poder não foi sucedida por uma explosão de liberdade dos indivíduos, mas sim por novas formas de assujeitamento, novas formas de sujeição mascaradas, cuja face imaginária visível é a da autonomia sem limites dos indivíduos.
Esses elementos ajudam a entender algumas coisas que, nessa pandemia, são muito marcantes e à primeira vista muito estranhas, como o negacionismo subjetivo ou a atitude anticientífica. Permitem também compreender o apelo que os regimes autoritários passaram a ter nos últimos poucos anos, e que encontraram na pandemia um terreno fertilíssimo. Na ausência de uma cultura tradicional em que a ideia de Lei e da autoridade se dá no sistema simbólico vertical, o que surge não é a distribuição horizontal dessa autoridade, mas a criação de uma espécie de vácuo, de ausência de um locus ou agência detentora de poder, cuja nostalgia convoca o surgimento de figuras que encarnam de maneira cristalizada essa autoridade perdida. Acho que esse é o apelo que fazem vicejar personagens como Bolsonaro, Trump e similares. Para compreender como as pessoas vem reagindo às injunções da pandemia nesse momento, é preciso levar esse contexto em consideração.
3) Como você pensa as consequências que podem advir desse tempo tão singular que viveremos no período pós-pandemia?
Benilton Bezerra Jr.: A cada encruzilhada que vivemos, em cada momento da História, a gente tem sempre muitos futuros em gestação ao mesmo tempo. O fortalecimento de um horizonte de construção da democracia ou sua fragilização depende de muitos fatores. Neste momento, existem oportunidades para apostas numa direção e na outra. Se nós fossemos seres racionais, estaria claro para onde a gente deveria se dirigir, né? A pandemia é só um capítulo de uma crise muito maior, que tem a ver com a nossa relação com a natureza, com o planeta como tal. É uma espécie de chamado, de alerta, e que diz da urgência de transformarmos nossa relação com a natureza, que nesses séculos de Modernidade virou objeto de dominação e de exploração supostamente ilimitado. A pandemia também deveria ser um chamado à consciência, no sentido de mostrar como a desigualdade estrutural que esses quatrocentos anos de capitalismo produziram é incompatível com uma boa vida para todos.
Diferentemente de outras crises, pelo fato de ser global, atravessar todo o planeta e atingir o todo social – mesmo que atinja as classes de forma desigual – o pandemônio criado pelo vírus tornou a desigualdade disfuncional para os privilegiados, no sentido de que para que a saúde e a segurança deles esteja garantida, é preciso que a saúde de todos seja também assegurada. Isso é o suficiente para que as coisas se movam na direção de uma diminuição da desigualdade? Não. Temos uma ontológica inclinação a não agir de forma racional para alcançar nossos interesses. Mas é um impulso que quase que independe da consciência, da boa vontade, porque é uma injunção objetiva. Os privilegiados do mundo não vão poder se defender do vírus com muros, com cercas objetivas ou simbólicas. A maior proteção será um mundo mais igualitário, mais solidário, um mundo mais seguro para todos; um mundo onde a natureza não esteja sendo tão assediada e tão arrebentada, a ponto de lançar nessa troca com os seres humanos elementos que são destrutivos e que poderiam estar contidos lá, no equilíbrio que estamos destruindo.
A pandemia é só um capítulo de uma crise muito maior, que tem a ver com a nossa relação com a natureza, com o planeta como tal. É uma espécie de chamado, de alerta
Existem algumas indicações de que talvez isso possa fluir. O fenômeno da cooperação científica internacional vai nessa direção. O papel crucial que as organizações internacionais, sobretudo a OMS, têm no enfrentamento do vírus também joga água para o mesmo moinho. Essas grandes agências internacionais vinham, há décadas, sofrendo o ataque dos poderes localizados – tanto de alguns Estados Nacionais, como no caso do governo Trump, quanto das megacorporações, cujo poder hoje atravessa fronteiras e se impõe sobre instâncias locais. De certa maneira, como já dito por muitos, apesar de nossas agudas diferenças e desigualdades, vivemos em um mundo compartilhado. Precisamos reconhecer, ou talvez, mais propriamente, insistir em afirmar que somos uma comunidade de destino. Essa consciência é, de alguma forma, estimulada pelas características que o vírus impõe à pandemia. O papel da OMS, da colaboração internacional, a atuação dos movimentos de solidariedade e a intensificação das denúncias da desigualdade talvez aponte para a possibilidade de que as consequências dessa abram um horizonte melhor para todos.
Se isso vai acontecer ou não, depende de muitos elementos. Por exemplo: a Europa agora, de certa forma, conseguiu reverter, pelo menos provisoriamente, um processo de divisão que vinha em curso. Todo o seu esforço no momento é coletivo, e visa ajudar todo o bloco a sair da crise que inevitavelmente virá. Por outro lado, vemos a atitude do governo americano, que vai na contramão disso, né? Qual será o papel da China nesse contexto geopolítico? Isso é algo que ainda não dá para determinar. Nesse tabuleiro econômico e geopolítico estão os grandes jogos que podem definir a direção global na recuperação da crise econômica. Uma direção mais positiva – que envidará esforços no sentido de produzir uma resposta coletiva à crise – ou um aprofundamento das diferenças, caso a atitude que Trump exemplifica venha a prevalecer.
Mas há outros elementos, e que dizem respeito às transformações no plano da vida subjetiva, que vêm se acelerando e que vão ser decisivos daqui para a frente. Um deles é o impacto das tecnologias de comunicação, das tecnologias de informação e das estruturas de produção, controle e manipulação dessas informações, que estão num processo muito acelerado de expansão. Estamos falando do mundo digital, cujo avanço não é de agora, mas que a pandemia catapultou, jogou para frente de maneira decisiva. Eu estava falando, no início, do mundo vivido, da realidade que a gente reconhece como tal, do mundo onde experimentamos nossa existência. Pois um dos impactos que está se tecendo no agora é a aceleração do processo de amálgama, entrelaçamento, interpenetração, entre o mundo físico e o mundo digital. Muita coisa supostamente impossível de ser passada para o mundo virtual, entrou na web em semanas. E isso não vai ter volta.
O impacto desse fenômeno sobre a vida, sobre muitas atividades, como educação, saúde, entretenimento, ação política, etc., mal está começando a ser vislumbrado. O mesmo ocorre no que diz respeito ao impacto subjetivo, o impacto no modo como pensamos, percebemos, sentimos e agimos, no modo como nossa subjetividade se molda e se processa. Neste sentido, quando falamos em diminuição das desigualdades hoje em dia, há de se pensar necessariamente na eliminação da exclusão digital como crucial em qualquer proposta de democracia. Só se poderá pensar na manutenção da democracia com inclusão digital. Por que? Porque essa inclusão cria a possibilidade de que indivíduos – de outra maneira excluídos do campo da vida comum e da vida política – adentrem nesse mundo – nessa nova dimensão da realidade compartilhada – com força. O raio de alcance da voz de uma pessoa comum mudou de maneira drástica em 20 anos com a difusão da internet, dos smartphones. E vai se ampliar de maneira mais poderosa ainda com a universalização da internet 5G, que está por ser comercializada. Aí não só as pessoas, mas as coisas e as pessoas estarão integradas. Surge daí um mundo completamente diferente daquele que habitava nosso pensamento e nossa imaginação no século 20.
Como dito no início, somos animais e temos impulsos. E esses impulsos nos impelem a nos engajarmos no mundo, na realidade que nos cerca. É nesse processo que nós, humanos, nos constituímos como um eu, nossas identidades, nossa escala de valores e nossos objetivos individuais e coletivos. Pois bem: é esse mundo que está mudando. Nós vamos continuar a ser impelidos por essas necessidades e pulsões e vamos continuar nos articulando ao mundo, construindo narrativas e todo o campo do imaginário no qual encenamos nossas narrativas pessoais. Mas o mundo onde, cada vez que eu abro a boca, cada vez que eu digito uma frase, posso alcançar, em princípio, todos os habitantes do planeta, é certamente um mundo diferente daquele que eu vivia há 20 anos atrás. Por outro lado, é também um mundo em que a manipulação dos dados e informações que cada pessoa contém e disponibiliza no cotidiano também alcançou um poder incomensurável em relação ao que era antes. Com a articulação contínua de Big Data e inteligência artificial, essas pegadas digitais que disponibilizamos no cotidiano para grandes corporações e instâncias de controle governamental, estabeleceu-se um novo cenário e novas formas de vida subjetiva e ação política que, evidentemente, ultrapassam em muito os dispositivos presentes no mundo pré-digital.
Isso já teve impactos. Nisso o Brasil é, aliás, um caso exemplar. A última eleição presidencial foi um claro exemplo de manipulação possibilitada pelo uso deliberado, preciso e muito competente desse tipo de tecnologia. E a manipulação das eleições é apenas um dos aspectos do que é possível fazer nesse novo mundo, já que as possibilidades engendradas pelas novas tecnologias de comunicação e pelos algoritmos se estendem progressivamente. A transformação da vida cotidiana em fonte permanente de informações que são utilizadas para monitoração, controle, tomadas de decisão e manipulação atinge cada vez mais a maneira de pensar na saúde, na educação, nas identidades sociais, na experiência de intimidade, no valor da imagem, no consistência da verdade, na definição do que é um fato real, e assim por diante
E, de novo: não é para a gente dar uma Beato Salu e dizer que o mundo está se acabando. Não! Nesse horizonte é possível enxergar coisas terríveis, como a manipulação política; coisas menos terríveis, mas igualmente complicadíssimas e nefastas, como a manipulação de desejos e identidades sociais para orientar consumo; mas há também o inverso disso. Já é possível perceber a presença de uma força inédita de vozes, de grupos excluídos, oprimidos que estavam antes, colocados à parte, e que agora são capazes de impor agendas, arregimentar recursos, mobilizar corações e mentes. Isso está ocorrendo em muitos lugares. No Brasil, isso é particularmente visível pelo crescimento exponencial do enfrentamento da questão racial. Esse debate já vinha crescendo, mas agora deu-se um salto que, acredito, não tem volta. O impacto disso na nossa vida política, a gente não tem condições de avaliar ainda, mas certamente é o de uma revolução.
4) Uma ampliação do horizonte de possibilidades, né?
Benilton Bezerra Jr.: Exatamente. É claro que a gente está falando de um plano mais geral e coletivo. Seria muito interessante também acompanhar o que serão os impactos na vida subjetiva individual. Porque hoje as gerações que já surgem como sujeitos nesse universo vão experimentar coisas básicas – como a relação do eu com a sua imagem; a construção de identidades sociais, a experiência da memória, a inscrição em redes de interação social – de uma forma completamente das gerações que não viveram isso. E, de novo, consigo supor que isso possa ter impactos muito interessantes, muito positivos, pelos efeitos emancipatórios que podem advir, que a gente vai poder considerar, mais para frente, mas também posso imaginar a serialização, estereotipização, a dificuldade de subverter, transgredir, e todo o tipo de problemas que derivam do poder enorme das instâncias que controlam o mundo digital.
Então, eu acho que o cenário atual é um cenário em que a pandemia deu um freio de arrumação, uma espécie de choque que sacudiu a roseira do nosso estágio civilizatório, mostrando a crise a que a gente já havia chegado, meio fingindo não ver – as desigualdades, a destruição da natureza – e apontando para algumas possibilidades de renovação do nosso horizonte. Nisso eu acho que reside a força da ideia de que o século 21 está começando agora. E talvez trazendo uma pitada de expectativa – se não, de esperança – que em 1989 parecia ter desaparecido. Porque com a queda do Muro de Berlim, muita gente se apressou em dizer que não havia mais outra saída para além do capitalismo liberal. Fukuyama chegou a falar do “fim da História”[11]. Como se depois da derrocada do que até então se propunha como alternativa ao capitalismo (o socialismo real), o futuro nada mais prometesse do que um presente continuado. E é verdade que nessas últimas quatro décadas se tornou muito difícil imaginar o que seria um mundo completamente diferente. Um mundo não pautado pelas regras da hegemonia, da ideologia, da lógica do mercado regulando a vida social. Propostas como a Terceira Via, personificada pelos governos de Clinton, Tony Blair, etc., eram compreendidas como a única resposta possível a isso. Ou seja, nessa realidade, até era possível ampliar acesso a direitos, justiça social, tolerância, etc., mas dentro de um jogo cujas regras não estavam postas em discussão. Agora, a depender do decurso dessa pandemia e de suas consequências, é possível que a revisão das regras dos jogos se torne não apenas pensável, mas necessária.
Daí porque a palavra comunismo, depois de ter virado tabu, voltou a se tornar pensável. Não o comunismo do século 20, que já se mostrou indesejável. Mas volta a ser possível pensar que a ideia do comum possa encontrar novamente algum espaço no imaginário político, reforçando o polo emancipatório universal que havia permanecido completamente silenciado a partir do final da década de 1980.
Assim, embora a espécie humana seja marcada por essa inerente e talvez insuperável disposição à agressividade, ao narcisismo das pequenas diferenças, à construção de identidades marcadas pelo preconceito, pela exclusão em relação àquilo que não são identidades normativamente desenhadas – a pandemia permitiu novamente imaginar essa mudança de direção no planeta – reinventando uma nova realidade, um mundo onde isso seja possível. Porque eu acho… eu acho! Embora eu me veja como um freudiano – e Freud era muito cético em relação à possibilidade de seres humanos melhorarem como espécie, eu sou daqueles que acham que quando se olha para trás, é possível encontrar algum progresso moral na história humana. Pegando a questão do racismo e da escravidão, por exemplo, faz diferença você imaginar que, até meados do século passado, a escravidão era considerada plausível em diferentes lugares do mundo. Hoje em dia não é mais. Ela não desapareceu, e sempre haverá gente querendo escravizar outros. Mas a ideia de que a escravidão seja aceitável e que era quase que um fato da natureza humana, isso foi desaparecendo. Considero isso um sinal – frágil, mas real – do progresso humano. José de Alencar não escreveria hoje cartas defendendo, “como bom cristão”, a escravidão como benesse civilizatória. Thomas Jefferson não teria como conciliar o que escreveu na declaração de independência americana com a propriedade de escravizados em casa. Também enxergo um sinal de progresso no fato de uma ideia esdrúxula inventada por um judeu de cultura romana há mais de 2000 anos – a de que todos os humanos são iguais – permaneça sendo um fermento para nossas melhores versões de sociedades futuras, e um critério para avaliar as atuais. Essa ideia fundamental do Cristianismo é uma criação humana, um ideal. Na natureza não existe essa igualdade. Até que Paulo o formulasse com base na ideia de que os humanos eram feitos à imagem de um único criador, esse era um pensamento totalmente disparatado. Aliás, continua enfrentando resistências vinte séculos depois – não só por razões circunstancias ou históricas, mas pelas próprias características do psiquismo humano. No entanto, a força dessa ideia jamais se extinguiu. E faz diferença pensar em formações sociais em que ela persiste como centro de gravidade dos valores políticos e da convivência social, ou em outras nas quais seu valor é posto em segundo plano. Os problemas da desigualdade foram escancarados e ampliados com o advento do vírus. Por isso, com uma pitada de otimismo e um grão de sal, é possível imaginar que a pandemia possa abrir um pouco frestas por onde essas forças mais emancipatórias, em pensamento e ação, possam encontrar um terreno fértil.
Os problemas da desigualdade foram escancarados e ampliados com o advento do vírus. Por isso, com uma pitada de otimismo e um grão de sal, é possível imaginar que a pandemia possa abrir um pouco frestas por onde essas forças mais emancipatórias
5) Vamos torcer. Se tem uma coisa que precisamos são saídas para novas realidades possíveis.
Benilton Bezerra Jr.: É. E sem ilusões. Porque é isso. Se a gente tiver a sorte de ter pela frente algumas décadas de renovação progressista, emancipatória, libertária, de aprofundamento democrático novamente, não há dúvida de que em algum momento o pêndulo vai voltar para o lado de lá. Veja o que aconteceu no mundo depois da Segunda Guerra Mundial, o pêndulo foi na melhor direção: social-democracia europeia, fim das colônias europeias na África, movimento dos direitos civis nos Estados Unidos, surgimento do feminismo, emergência do movimento das deficiências… uma porção de coisas que não existiam até os anos 40, floresceram durante algumas décadas, criando novas identidades, impondo novos campos de possibilidade de existência. De meados dos anos 80 para cá, o pêndulo começou a oscilar na outra direção… os governos de Thatcher, Reagan, o fortalecimento do neoliberalismo, o fim do bipolarismo. E essa atmosfera limitou a percepção comum, fazendo com que majoritariamente se passasse a se afirmar que o mundo é isso que está aí, e que imaginar um mundo completamente diferente é coisa de hippies que ainda não voltaram para casa. Deixamos de exercitar o músculo da imaginação, capaz de inventar uma maçã atrás da qual a gente corra atrás, uma potência que poderia galvanizar corações e mentes, gerações, para construir uma nova realidade. Certamente, abandonamos, durante esse tempo, a ideia de política com P maiúsculo. Política no sentido grego: a reflexão coletiva acerca de mundos melhores e da organização de ações na busca de sua construção. Política virou agenciamento de interesses econômicos que, soit disant, se impunham, porque acima do mercado nenhuma instância parecia ter algum poder. É isso que talvez a pandemia tenha trincado um pouco. Talvez.
[2] FREUD, Sigmund. O mal estar na cultura e outros escritos de cultura, sociedade e religião. Obras Incompletas de Sigmund Freud. São Paulo, Autêntica, 2020. / O mal-estar na civilização. In S. Freud. Edição Standard das Obras Completas de Sigmund Freud (vol. 21). Rio de Janeiro: Imago. (Obra original publicada em 1930).
[3] MARSHALL, Berman. Tudo que é sólido desmancha no ar: a aventura da modernidade. São Paulo: Companhia das Letras, 1986, p. 15; MARX, Karl e ENGELS, Manifesto Comunista. Boitempo Editorial, 2015, p. 43.
[4] BIRMAN, J. Estilo de ser, forma de padecer e maneira de sentir. BIRMAN, J. Cartografias do feminino. São Paulo: Editora, 1999, 34.
[5] Para a primeira parte da nossa participação na série COVID-19: o olhar dos historiadores da Fiocruz, ver: https://coc.fiocruz.br/index.php/pt/todas-as-noticias/1837-mal-estar-psiquico-na-pandemia-aspectos-socio-culturais.html?fbclid=IwAR00U-Ks4fmuAAr3SwY_0S-8j0uFzy50RaUeSY3PSG9MQcdWxWTaRvXUkf8#.XzmPKpNKhp_
[6] Psicanalista e psiquiatra, Benilton foi professor do Instituto de Medicina Social da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (IMS/UERJ) e trabalhou como psiquiatra do Ministério da Saúde durante o processo de implantação da Reforma Psiquiátrica no Brasil
[8] SIMMEL, George. O indivíduo e a liberdade. In: SOUZA, J.; OELZE, B. (orgs.). Simmel e a modernidade. Brasília, DF: UNB, 2005
[9] SIMMEL, George. Filosofia del dinero. Madrid: Instituto de Estudios Políticos, 1977.
[10] LASCH. Christopher. A cultura do narcisismo. Rio de Janeiro: 1983.
[11] FUKUYAMA, Francis. O fim da história e o último homem. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.