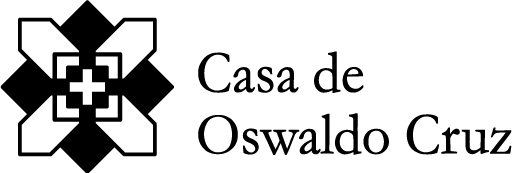A reflexão sobre o exílio forçado de cientistas ao longo da história é fundamental para se compreender o Brasil de hoje. A avaliação é do cientista político Gilberto Hochman, pesquisador da Casa de Oswaldo Cruz (COC/Fiocruz), que, em seu mais recente estudo, debruçou-se sobre as correspondências trocadas entre professores, assistentes e alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP). O objetivo da pesquisa é analisar a percepção dos cientistas brasileiros e as relações entre ciência e política durante o exílio, principalmente entre 1964 e 1969.
“Essas cartas revelam uma conversa epistolar sobre o fazer científico no Brasil, indissociável das condições políticas [da época]. [As] reflexões têm a ver com as discussões da ciência brasileira dos anos de 1950 e 1960, e a crítica à necessidade de maior inclusão de alunos e o subfinanciamento”, explicou Hochman que coordenou a mesa-redonda Cientistas no Exílio, Autoritarismo, Sofrimento e Conhecimento, durante o Encontro às Quintas de 28 de novembro.
Segundo apontou o cientista político, a temática do exílio tem presença marcante na historiografia latino-americana, com estudos relacionados ao exílio de intelectuais europeus fugidos do nazifascismo e dos políticos e intelectuais latino-americanos desterrados pela onda autoritária dos anos 1960 e 1970. O tema, no entanto, segue atual, na avaliação do pesquisador.
Ativismo político resultou em perseguições e demissões
Parte dos profissionais exilados eram do Departamento de Parasitologia Médica da Universidade de São Paulo (USP), chamado “departamento vermelho”, explicou Gilberto Hochman, acrescentando que alguns tinham pertencido ao Partido Comunista Brasileiro (PCB). Segundo o historiador, os professores eram críticos do golpe contra o presidente João Goulart e à repressão às instituições, especialmente dentro das universidades.
Os docentes que atuavam politicamente passaram a ser acusados em delações, foram vítimas de perseguições, prisões ou acabaram demitidos, respondendo a Inquéritos Policiais Militares (IPMs). De acordo com o pesquisador, alguns exilados retornaram ao país entre 1967 e 1968, na chamada Operação Retorno, no governo Castelo Branco, que tinha como objetivo repatriar cérebros considerados importantes para a ciência nacional.
No entanto, cientistas que acreditavam na proposta do governo, entre os quais Luiz Hildebrando Pereira da Silva, Luis Rey e Erney Camargo, acabaram apanhados pelo AI-5, de abril de 1969. Eles tiveram de voltar ao exílio ou permanecer no Brasil, onde tiveram seus direitos políticos suspensos e foram obrigados a se afastar da universidade.
Em 2020, Massacre de Manguinhos fará 50 anos
Gilberto Hochman disse que as correspondências trocadas entre Maria Deane, Leônidas Deane, Samuel Barnsley Pessoa, Erney de Camargo, Luiz Hildebrando, Luis Rey, Julio Puddles, Michel Rabinovich, Victor Nussensweig, entre outros, revelam a experiência dramática do exílio, os desafios enfrentados no exterior e a saudade dos amigos e do Brasil. As cartas revelam as críticas ao regime militar, a colegas, delatores e aos omissos, além dos dramas das famílias cujas vidas sofreram uma mudança radical no exterior.
“Portanto, compreender a especificidade – ou não – desse exílio é fundamental. Essa é uma reflexão histórica que diz respeito à relação entre ciência e democracia no Brasil”, concluiu. O pesquisador lembrou que 2019 marca os 40 anos da Lei de Anistia, que trouxe ao país os banidos e exilados pelo regime militar.
O próximo ano também será marcante. Em 1º de abril de 2020, o Massacre de Manguinhos completará 50 anos. O episódio foi resultado do AI-5 e atingiu 10 cientistas do então Instituto Oswaldo Cruz (IOC), hoje parte da Fiocruz, que foram cassados. O AI-5 suspendeu os direitos políticos dos pesquisadores Haity Moussatché, Herman Lent, Moacyr Vaz de Andrade, Augusto Cid de Mello Perissé, Hugo de Souza Lopes, Sebastião José de Oliveira, Fernando Braga Ubatuba e Tito Arcoverde Cavalcanti de Albuquerque.
Exílio: uma experiência de sofrimento
Autora do livro Exílio. Entre Raízes E Radares, a historiadora Denise Rollemberg observou um elemento recorrente no discurso dos exilados: o sofrimento. “Sem dúvida nenhuma, [o exílio] é uma experiência de sofrimento, implica a derrota de um projeto político, de um projeto pessoal, no qual a pessoa se envolveu”, disse.
Embora o exílio seja uma experiência impactante, Denise Rollemberg ouviu depoimentos menos traumáticos durante sua pesquisa. Enquanto alguns e entrevistados afirmavam ter sido “a pior coisa que aconteceu” em sua vida, outras viam o exílio como algo positivo, revelou a historiadora. “O exílio coloca o sujeito diante do mundo, abre perspectivas muitas vezes, um universo desconhecido que faz com que tenha também essa carga, esse inverso do sofrimento”, explicou Denise Rollemberg.
Duas gerações foram identificadas na pesquisa, entre 1964 e 1979. A primeira é a chamada geração de 1964. “Eram homens que tiveram uma atuação muito mais importante ou que participaram da vida política e democrática do período de 1945 até 1964 e, sobretudo, aquele pessoal do pré-1964”, disse. A outra geração é a de 1968, segundo ela, muito diferente da primeira. “Há uma presença muito grande também de mulheres, de jovens, muita gente ligada ao movimento estudantil e que tinha sido atingida pelo AI-5”, destacou.
Para a historiadora, a questão da volta dos exilados é um capítulo à parte, não apenas no caso brasileiro, referindo-se, ao impacto desse retorno. Depois de tanto tempo, a volta é como um segundo exílio, e a questão da identidade aparece mais uma vez. “Compreender o que era o Brasil da época é uma coisa curiosa; [com] esse distanciamento, você consegue olhar o seu país de forma lúcida”, concluiu.
Cientistas alemães se exilaram no Brasil
As migrações acadêmicas provocadas pela perseguição étnica e política representaram uma forma dramática de circulação de conhecimento em todo o século 20, afirmou André Felipe Cândido da Silva. “É possível pensar no caráter radicalmente dinâmico dessas experiências, [que envolvem] transformação de vida e carreiras”, disse o pesquisador, lembrando que a saída dos acadêmicos ocorreu numa Europa convulsionada pelo nazifascismo e pela guerra.
Segundo André Felipe, a migração compulsória dos perseguidos pelo nazismo ganhou vulto, antes de mais nada, pela escala. O primeiro ato que deflagrou a migração massiva de acadêmicos e cientistas na Alemanha foi a Lei para a Restauração do Serviço Público, de 1933, que pretendia promover a arianização inicialmente nas universidades. O historiador chamou atenção para a cláusula de exceção, que resguardava quem tinha lutado na Primeira Guerra Mundial e poderiam permanecer no serviço público. Porém, as leis de Nuremberg aboliram as exceções. André Felipe revelou ainda que a maioria das demissões por razões raciais, ainda que uma pequena parte tenha sido motivada por questões políticas.
Destinos preferenciais dos emigrados da Alemanha nazista, Inglaterra e Estados Unidos organizaram agências de ajuda aos refugiados naquele período, disse o pesquisador.
Contexto brasileiro é menos estudado
Considerado inadequado para o exílio pelas organizações judaicas da época, o Brasil não se empenhou para atrair judeus. Ao contrário, a política de Getúlio Vargas naquele momento buscava restringir a chegada de judeus ao Brasil, explicou o pesquisador. “O leitmotiv [de Vargas] era o desenvolvimento nacional, a modernização, a ocupação de território e a criação de instituições”, disse.
De acordo com André Felipe, o cientista Henrique da Rocha Lima, que mantinha intenso intercâmbio com a Alemanha e havia trabalhado no Instituto Oswaldo Cruz (IOC), indicou professores judeus alemães para trabalhar na Universidade de São Paulo (USP), criada em 1934.
Entre eles, estavam o químico Heinrich Hauptmann, o zoólogo H. Breslau e o botânico Félix Rawicher, que desenvolveria estudos importantes no cerrado e criaria uma escola de ecólogos na USP. Rawicher ocupou uma cadeira de zoologia na Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, permanecendo no Brasil até sua morte, em 1968. No entanto, nem todos os cientistas que vieram para o país tiveram sucesso.
O caso da geneticista Gerta von Ubisch, por exemplo, foi um caso malsucedido de integração, segundo Andé Felipe. Ela também sofreu o preconceito de gênero da época, embora fosse um nome respeitado da genética naquele período. “Ela era mulher e estava sozinha no Brasil”, frisou. Gerta trabalhava com melhoramentos de plantas, mas teve de conduzir pesquisas com animais para a produção de soro no Instituto Butantan, em São Paulo. Apesar de também tentar se estabelecer em Rolândia (PR), destino de cientistas que fugiam do nazismo, os esforços fracassaram.
“Apesar dessas características muito idiossincráticas, pode-se analisar o exílio em termos de impactos coletivos”, avaliou André Felipe Cândido da Silva. “Cabe à história da ciência indagar qual a relação das migrações com as mudanças científicas nos países de origem e destinos dos exilados”, concluiu o pesquisador.